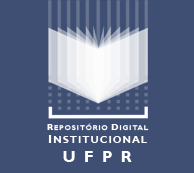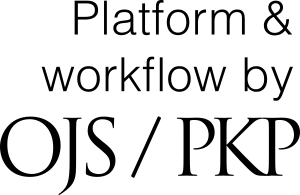"Remédio da Ciência" e "Remédio da Alma": os usos da secreção do kambô (Phyllomedusa bicolor) nas cidades
DOI:
https://doi.org/10.5380/cam.v8i1.9553Palavras-chave:
kambô, katukina, terapias alternativas, religiões ayahuasqueiras, Nova Era.Resumo
Desde a metade da última década, em grandes cidades do Brasil, começou a se difundir o uso da secreção da rã Phyllomedusa bicolor. Tradicionalmente usada como revigorante e estimulante para caça por grupos indígenas do sudoeste amazônico (entre eles, Katukina, Yawanawá e Kaxinawá), tem havido um duplo interesse pelo kambô nos centros urbanos: como um "remédio da ciência" – no qual se exaltam suas propriedades bioquímicas – e como um "remédio da alma" – onde o que mais se valoriza é sua "origem indígena". A difusão urbana do kambô tem-se dado, sobretudo, em clínicas de terapias alternativas e no ambiente das religiões ayahuasqueiras brasileiras. Os aplicadores são bastante diversos entre si: índios, ex-seringueiros, terapeutas holísticos e médicos. Neste artigo apresentamos uma etnografia da difusão do kambô, analisando sobretudo o discurso que esses diversos aplicadores têm elaborado sobre o uso da secreção, compreendida por alguns como uma espécie de ‘planta de poder’, análoga ao peiote e a ayahuasca.
Referências
ÁVILA, Tiago. 2005. “Não é do Jeito que Eles Quer, é do Jeito que Nós Quer”: biotecnologia e o acesso aos conhecimentos tradicionais dos Krahô. Dissertação de Mestrado. Brasília: Universidade de Brasília.
BECKER, Howard S. 1966. Outsiders: studies in the sociology of deviance. Londres: Free Press of Glencoe.
CARNEIRO, Robert. 1970. “Hunting and Hunting Magic among the Amahuaca of the Peruvian Montaña”. Ethnology 9(4): 331-341. https://doi.org/10.2307/3773039
CARNEIRO, Henrique. 2002. Amores e Sonhos da Flora. Afrodisíacos e alucinógenos na botânica e na farmácia. São Paulo: Xamã.
CARNEIRO, Henrique. 2005. “Transformações do Significado da Palavra ‘Droga’: das especiarias coloniais ao proibicionismo contemporâneo”. In: Renato P. Venâncio e Henrique S. Carneiro (orgs.) Álcool e Drogas na História do Brasil. Belo Horizonte/São Paulo: Editora da PUC-Minas/Alameda.
CARNEIRO, Henrique. 2005. Pequena Enciclopédia da História das Drogas e Bebidas. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier.
CARNEIRO, Henrique. (no prelo). “Autonomia ou Heteronomia nos Estados Alterados de Consciência”. In Beatriz Labate, Maurício Fiore e Sandra Goulart (orgs) Drogas: perspectivas em ciências humanas. Campinas: Editora Mercado de Letras.
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. 2005. “Des Grenouilles et des Hommes”. Télérama hors série, Les Indiens du Brésil. Março 2005, pp. 80-83.
DALY, J. W., J. Caceres, R. W. Moni, F. Gusovsky, M. Moo, K. B. Seamon, K. Milton E C. Myers. 1992. “Frog Secretions and Hunting Magic in the Upper Amazon: identification of a peptide that interacts with an adenosine receptor”. Proceedings of the National Academy of Sciences 89: 10960-10963. https://doi.org/10.1073/pnas.89.22.10960
DA MATTA, Roberto. 1973. “Panema: uma tentativa de análise estrutural”. In Ensaios de Antropología Estrutural. Petrópolis: Vozes.
DOUGLAS, Mary. 1976. Pureza e Perigo. São Paulo: Perspectiva.
FIORE, Maurício. 2002. “Algumas Reflexões sobre os Discursos Médicos a Respeito do Uso de ‘Drogas’”. Disponível em http://www.neip.info/downloads/anpocs.pdf.
FIORE, Maurício. 2004. Controvérsias Médicas e a Questão do Uso de Drogas. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social. São Paulo: Universidade de São Paulo.
GINZBURG, Carlo. 1991. História Noturna. Decifrando o Sabá. São Paulo: Companhia das Letras.
LABATE, Beatriz. 2004a. A Reinvenção do Uso da Ayahuasca nos Centros Urbanos. Campinas: Mercado de Letras/ FAPESP.
LABATE, Beatriz. 2004b. Ayahuasca Mamancuna merci beaucoup: diversificação e internacionalização do vegetalismo ayahuasqueiro peruano. Exame de qualificação do Doutorado em Ciências Sociais. Campinas: Unicamp.
LABATE, Beatriz C. e Wladimyr Sena Araújo (orgs.). 2004. O Uso Ritual da Ayahuasca. 2ª. ed. Campinas: Mercado de Letras/FAPESP
LABATE, Beatriz; Sandra Goulart; Henrique Carneiro. 2005. “Introdução”. In B. Labate e S. Goulart (orgs.) O Uso Ritual das Plantas de Poder. Campinas: Mercado de Letras/FAPESP.
LIMA, Edilene Coffaci de. 2000. Com a Pedra da Serpente. Homens, animais e espíritos nas concepções Katukina sobre a natureza. Tese de doutorado. São Paulo: Universidade de São Paulo/ Departamento de Antropologia.
LIMA, Edilene Coffaci de. 2005. “Kampu, kampo, kambô: o uso do sapo-verde entre os Katukina”. Revista do IPHAN 32: 254-267.
LIMA, Edilene C. e Beatriz C. Labate. 2006. “Das Florestas Acreanas aos Grandes Centros Urbanos”. In Carlos A. Ricardo e Fany Ricardo (orgs) Povos Indígenas no Brasil: 2001/2005. São Paulo: Instituto Socioambiental.
LIMA, Edilene C. e Beatriz C. Labate. (no prelo). “A Expansão Urbana do Kambô (Phyllomedusa bicolor): notas etnográficas”. In B. Labate, M. Fiore e S. Goulart (orgs) Drogas: perspectivas em ciências humanas. Campinas: Editora Mercado de Letras.
LOPES, Leandro Altheman. 2005. Kambô, a Medicina da Floresta (experiência narrativa). Trabalho de conclusão de curso em Comunicação Social - habilitação Jornalismo e Editoração. São Paulo: Universidade de São Paulo. Disponível em http://www.neip.info/downloads/leandro_kambo.pdf.
MAGNANI, José Guilherme. 1999. “O Xamanismo Urbano e a Religiosidade Contemporânea”. Religião e Sociedade 20(2): 113-140.
MARTINS, Homero Moro. 2006. Os Katukina e o Kampô: aspectos etnográficos da construção de um projeto de acesso a conhecimentos tradicionais. Dissertação de Mestrado. Brasília: Universidade de Brasília/ Departamento de Antropologia.
MILTON, Katherine. 1994. “No Pain, no Game”. Natural History IX: 44-51.
MORAES, Ricardo Gaiot to. s/d. “Macunaíma: um esboço do Brasi l”. Publicações de alunos de graduação e pós-graduação do Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP (Especial Macunaíma). Disponível em http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/.
NEGRI, L., G. F. Erspamer, C. Severini, R. L. Potenza, P. Melchiorri E V. Erspamer. 1992. “Dermorphin-related peptides from the skin of Phyllomedusa bicolor and their amidated analogs activate two µ opioid receptor subtypes that modulate antinociception and catalepsy in the rat”. Proceedings of the National Academy of Sciences 89: 7203-7207. https://doi.org/10.1073/pnas.89.15.7203
OTT, Jonathan. 2004. “Farmahuasca, Anahuasca e Jurema Preta: farmacologia humana de DMT oral mais harmina”. In Beatriz C. Labate e Wladimyr Sena Araújo (orgs.) O Uso Ritual da Ayahuasca. 2ª. ed. Campinas: Mercado de Letras/ FAPESP.
PÉREZ GIL, Laura. 1999. Pelos Caminhos de Yuve: conhecimento, cura e poder no xamanismo Yawanawá. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina.
ROSE, Isabel Santana de. 2005. Espiritualidade, Terapia e Cura: um estudo sobre a expressão da experiência no Santo Daime. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina.
RUDGLEY, Richard. 1993. Essential Substances. A cultural history of intoxicants in society. Nova York: Kodansha International.
RUDGLEY, Richard. 1999. Enciclopédia de las Substancias Psicoativas. Barcelona: Paidós. pp. 274-280.
SEIBEL, Sergio Dario e Alfredo Toscano Jr. 2000. “Conceitos Básicos e Classificação Geral das Substâncias Psicoativas”. In S. D. Seibel e A. Toscano Jr. (orgs). Dependência de Drogas. São Paulo: Atheneu
SHEPARD Jr., Glenn. 2005. “Venenos Divinos: plantas psicoativas dos Machiguenga do Peru”. In B. Labate e S. Goulart (orgs.) O Uso Ritual das Plantas de Poder. Campinas: Mercado de Letras.
SOARES, Luiz Eduardo. 1994. O Rigor da Indisciplina. Ensaios de Antropologia Interpretativa. Rio de Janeiro: Iser/Relume- Dumará.
SOUZA, Moisés Barbosa et alii. 2002. “Anfíbios”. In Manuela Carneiro da Cunha e Mauro Almeida (orgs). Enciclopédia da Floresta. O Alto Juruá: práticas e conhecimentos das populações. São Paulo: Cia. das Letras.
VENTURA, Zuenir. 2003. Chico Mendes. Crime e castigo. São Paulo: Companhia das Letras.
ZINBERG, Norman. 1984. Drug, Set and Setting. Nova Haven: Yale University Press.
Jornais, Revistas e Sítios Eletrônicos
ANTUNES, Archibaldo. 2001. “A Magia do Kambô”. Outras Palavras. Rio Branco, Número 13.
ARANHA, Ana. 2006. “E a Princesa Beijou o Sapo”. Época, 23 de janeiro de 2006.
BEZERRA, José Augusto. 2004. “A Ciência do Sapo”. Globo Rural nº 228. Outubro.
DINIZ, Tatiana. 2005. “Apesar de Proibida, Pacientes Recorrem à Vacina do Sapo”. Folha de S. Paulo, 03 de novembro, Caderno Equilíbrio.
GORMAN, Peter. 1993. “Making Magic”. Omni Magazine. Julho. Disponível em http://www.pgorman.com/MakingMagic. htm. Acesso em 21 de novembro de 2005.
GORMAN, Peter.. 1995. “Between the Canopy and the Forest Floor”. High Times Magazine. Janeiro. Disponível em http://www.pgorman.com/BetweentheCanopyandtheForestFloor.htm. Acesso em 21 de novembro de 2005.
LABATE, Bia. 2005. “A Rã que Cura?” Superinteressante. Maio, nº 213.
LABATE, Bia. “O Pajé que Virou Sapo e Depois Promessa de Remédio Patenteado”. Disponível em http://www.antropologia. com.br/colu.html. Acesso em 30 de agosto de 2005.
LAGES, Amarílis. 2005. “Uso de Veneno de Rã deixa Floresta e ganha Adeptos nas Metrópoles”. Folha de S. Paulo, 12 de abril, página C3.
LOPES, Leandro A. 2001. “Herança da Floresta”. Outras Palavras. Rio Branco, nº 13. PÁGINA 20. “Cura do Câncer”. Rio Branco, 2 de julho de 2003.
PRADA, Paulo. 2005. “Poisonous Tree Frog Could Bring Wealth to Tribe in Brazilian Amazon”. New York Times, 30 de maio de 2006.
REUTERS. “Brazilian Frog Could Cure Diseases”. 12 de junho de 2006. http://www.reuters.com/news/video/ videoStory?videoId=1344 Acesso em 23/02/2007.
WEISS, Bruno. 2006. “Povo Katukina Faz Alerta Contra Uso Indevido do Kampô, a ‘Vacina do Sapo’”. Instituto Socioambiental. Disponível em http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2247. Acesso em 27 de abril de 2006.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
1 Autores mantém os direitos autorais com o trabalho publicado sob a Creative Commons - Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) que permite:
Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato.
Adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material.
De acordo com os termos seguintes:
Atribuição — Você deve dar o crédito apropriado, prover um link para a licença e indicar se mudanças foram feitas. Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de nenhuma maneira que sugira que o licenciante apoia você ou o seu uso.
Não Comercial — Você não pode usar o material para fins comerciais.
2 Autores têm autorização para distribuição, da versão do trabalho publicada nesta revista, em repositório institucional, temático, bases de dados e similares com reconhecimento da publicação inicial nesta revista;
3 Os trabalhos publicados nesta revista serão indexados em bases de dados, repositórios, portais, diretórios e outras fontes em que a revista está e vier a estar indexada.