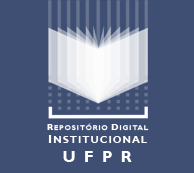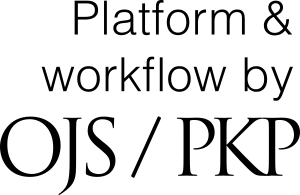Quando o campo é o estágio: etnografia e formação docente
DOI:
https://doi.org/10.5380/cra.v22i2.72968Palavras-chave:
Antropologia da educação, estágio supervisionado, etnografia escolar, formação docente, licenciatura.Resumo
O que a prática etnográfica teria a oferecer para a formação docente? Por meio de um exercício etnográfico realizado em uma instituição pública de ensino no Paraná, procuramos debater ao longo deste artigo aspectos significativos da dimensão formacional da etnografia. O trabalho de campo baseia-se em uma experiência de estágio docente, realizado ao longo do ano de 2018, com duas turmas de Ensino Médio de uma escola pública da região metropolitana de Maringá. A intenção é argumentar que a prática etnográfica, enquanto um exercício pedagógico a ser realizado durante o estágio supervisionado, comporta o potencial de educar a percepção dos futuros(as) professores e professoras a respeito da realidade escolar. Ao final, o texto propõe uma composição entre o campo e a literatura especializada, para dialogar com desafios éticos, políticos e formativos relacionados ao desenvolvimento de estratégias pedagógicas sensíveis às diferenças e desigualdades, que constituem as relações sociais em sala de aula.
Referências
Araújo, O. (2019). Estágio Supervisionado, profissionalização e profissionalidade docente: do que estamos falando? Revista Teias, 20(58), 250-264. https://doi.org/10.12957/teias.2019.39115
Brasil. Ministério da Educação. (2006). Orientações Curriculares para o Ensino Médio – Ciências Humanas e suas tecnologias. Brasília.
Brum, C. K., & Jesus, S. C. de. (2018). Antropologia como educação: um diálogo sobre experiências de ensino da antropologia em cursos de formação de professores e seus desafios. Ciências Sociais Unisinos. 54(2), 217-228. https://doi.org/10.4013/csu.2018.54.2.09
Carniel, F. (2013) A invenção (pedagógica) da surdez: sobre a gestão estatal da educação especial na primeira década do século XXI (Tese de Doutorado). Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
Carniel. F. (2018). Agenciar palavras, fabricar sujeitos: sentidos da educação inclusiva no Paraná. Horizontes Antropológicos, 24(50), 83-116. https://doi.org/10.1590/S0104-71832018000100004
Carniel, F., & Bueno, Z. (2018). Aprendendo a pensar perigosamente: experiências com o PIBID de Ciências Sociais da UEM. In J. A. Martins, & M. H. Y. Zappone (orgs). Formação Docente: percursos e reflexões a partir do PIBID-UEM (pp. 33 – 50). Maringá: EDUEM.
Carniel, F., & Rapchan, E. S. (2018). Usos (sem abuso) do texto etnográfico em sala de aula. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 99(253), 687-699. https://doi.org/10.24109/2176-6681.rbep.99i252.3758
Dubet, F. (1997). Quando o sociólogo quer saber o que é ser professor. Entrevista concedida a A. T. Peralva e M. P. Sposito; tradução de I. R. Bueno. Revista Brasileira de Educação, 5, 222-231.
Estrela, M. T. (Org.). (1997). Viver e construir a profissão docente. Porto: Porto Editora.
Favret-Saada, J. (1990). Être Affecté. Revue d’Histoire et d’Archives de l’Anthropologie, 8, 3-9. https://www.persee.fr/doc/gradh_0764-8928_1990_num_8_1_1340
Fians, G. (2015). Por uma antropologia de varanda reversa: etnografando um encontro entre índios e crianças em uma escola no Rio de Janeiro. Cadernos de Campo, 24, 202-222. https://doi.org/10.11606/issn.2316-9133.v24i24p202-222
Fonseca, C. (1999). Quando cada caso NÃO é um caso: pesquisa etnográfica e educação. Revista Brasileira de Educação, 10, 58-78.
Foucault, M. (1994). Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Editora Vozes.
Gusmão, N. (1997). Antropologia e educação: origens de um diálogo. Cadernos Cedes, (18)43, 8-25. https://doi.org/10.1590/S0101-32621997000200002
Goldman, M. (2003). Os tambores dos mortos e os tambores dos vivos: Etnografia, Antropologia e Política em Ilhéus, Bahia. Revista Antropologia, 46(2), 423-444. https://doi.org/10.1590/S0034-
hooks, b. (2013). Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes.
Ingold, T. (2010). Da transmissão de representações à educação da atenção. Educação, 33(1), 6-25.https://doi.org/10.15448/1981-2582.2016.3.21690
Ingold, T. (2016). Chega de etnografia! A educação da atenção como propósito da antropologia. Educação, 39(3), 405-411. https://doi.org/10.15448/1981-2582.2016.3.21690
Nóvoa, A. S. da. (org.). (1992). Vidas de professores. Porto: Ed. Porto.
Oliveira, A. (2017). Uma antropologia fora do lugar? Um olhar sobre os antropólogos na educação. Horizontes Antropológicos, (23)49, 233-253. https://doi.org/10.1590/s0104-71832017000300009
Oliveira, A., & Barbosa, V. S. L. (2013). Formação de professores em ciências sociais: desafios e possibilidades a partir do estágio e do PIBID. Revista Inter-Legere, 1(13), 140-162. https://periodicos.ufrn.br/interlegere/article/view/4169
Oliveira, R. C. de. (1996). O trabalho do Antropólogo: olhar, ouvir, escrever. Revista de Antropologia, 39(1), 13-37. https://doi.org/10.11606/2179-0892.ra.1996.111579
Passeggi, M., & Silva, V. (orgs.). (2010). Invenções de vidas, compreensão de itinerários e alternativas de formação. Natal: EDUFRN; São Paulo: Paulus.
Peirano, M. (2008). Etnografia, ou teoria vivida. Ponto Urbe, 2, 1-10. https://doi.org/10.4000/pontourbe.1890
Pereira, A. B. (2016). A “maior zoeira” na escola: experiências juvenis na periferia de São Paulo. São Paulo: Editora da Unifesp.
Pereira, A. B. (2017). Do controverso “chão da escola” às controvérsias da etnografia: aproximações entre antropologia e educação. Horizontes Antropológicos, (23)49, 149-176. https://doi.org/10.1590/s0104-71832017000300006
Pinho, O. (2018). Etnografia e Emancipação: Desafios Antropológicos na Escola Pública. In J. Bernardino-Costa, N. Maldonado-Torres, & R. Grosfoguel (orgs.). Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico (pp. 341-360). Belo Horizonte: Autêntica Editora.
Rapchan, E., & Carniel, F. (2016) Natureza ou cultura na formação escolar brasileira. Revista Inter-Legere, (1)18, 76-94. https://periodicos.ufrn.br/interlegere/article/view/10815
Rocha, G. (2012). Aprendendo com o outro: Margaret Mead e o papel da educação na organização da cultura. In T. Dauster, S. Tosta, & G. Rocha (orgs.). Etnografia e educação: culturas escolares, formação e sociabilidades infantis e juvenis (pp. 41-68). Rio de Janeiro: Lamparina.
Rodriguez, C. (2001). Black feminist anthropology: theory, politics, and poetics. New Jersey: Rutgers University Press.
Romaña, T., & Gros, B. (2003). La profesión del docente universitário del siglo XXI: cambios superficiales o profundos? Revista de Enseñanza Universitária, 21, 7-35. https://idus.us.es/handle/11441/54876
Sáez, O. C. (2013). Esse obscuro objeto de pesquisa. Ilha de Santa Catarina: Edição do autor.
Strathern, M. (1987). The Limits of Auto-Anthropology. In A. Jackson (org.). Anthropology at Home (pp. 17-37). London: Tavistock.
Silva, T. T. et al. (2014). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes.
Tardif, M. (2002). Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes.
Wagner, R. (2010). A invenção da cultura. São Paulo: Cosac & Naify.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
1 Autores mantém os direitos autorais com o trabalho publicado sob a Creative Commons - Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) que permite:
Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato.
Adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material.
De acordo com os termos seguintes:
Atribuição — Você deve dar o crédito apropriado, prover um link para a licença e indicar se mudanças foram feitas. Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de nenhuma maneira que sugira que o licenciante apoia você ou o seu uso.
Não Comercial — Você não pode usar o material para fins comerciais.
2 Autores têm autorização para distribuição, da versão do trabalho publicada nesta revista, em repositório institucional, temático, bases de dados e similares com reconhecimento da publicação inicial nesta revista;
3 Os trabalhos publicados nesta revista serão indexados em bases de dados, repositórios, portais, diretórios e outras fontes em que a revista está e vier a estar indexada.