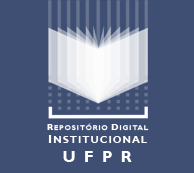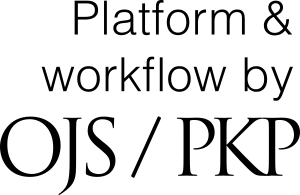A mulher e seu quintal, caminhadas por um universo mágico-místicotransformacional
DOI:
https://doi.org/10.5380/cra.v20i1.70019Palavras-chave:
Mulher, Quintal, Bicho, QuilomboResumo
Este trabalho apresenta reflexões preliminares acerca da experiência etnográfica no quintal de uma mulher que, segundo sua comunidade de pertença, “vira bicho”, o que corresponde à categoria nativa de populações amazônicas, “engerar”, referente a um processo mágico de metamorfose. O encontro com essa mulher se deu em uma comunidade quilombola na ilha do Marajó (PA), formada a partir da relação afroindígena, constituinte de um complexo cosmológico povoado de seres sobrenaturais que mantêm relações profundas com seus diferentes ambientes. Neles são estabelecidos vínculos complexos entre os elementos que os compõem. São lugares de morada em que o humano estabelece laços com os não humanos e com o si mesmo em movimento dialético. Os limites se definem e se borram
em constante (re)criação. É onde se produzem cotidianamente os sentidos do ser e estar no lugar, que, por sua vez, institui um movimento criativo, uma ético-estética de atuação e interação com ele.
Referências
BARGAS, Janine. 2013. Construindo “utopias realistas”: as comunidades quilombolas de Salvaterra e o Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. Dissertação de Mestrado em Ciências Sociais. Belém. PA, Universidade Federal do Pará.
CARDOSO, Luís Fernando Cardoso e. 2008. A constituição local: direito e território quilombola na comunidade de Bairro Alto, na Ilha de Marajó – Pará. Tese de Doutorado em Antropologia Social. Florianópolis. SC. Universidade Federal de Santa Catarina.
DA MATTA, Roberto.1997. A casa & a rua. Rio de Janeiro: Rocco.
DIEGUES, Antônio Carlos. 1998. Ilhas e Mares: simbolismo e imaginário. São Paulo: Hucitec.
DURAND, Gilbert. 1989. As estruturas antropológicas do imaginário. Introdução à arquetipologia geral. Lisboa: Presença.
ELIADE, Mircea. 2010. Tratado de história das religiões. São Paulo: Editora WMF, Martins Fontes.
FAUSTO, Carlos. 2008. Donos demais: maestria e domínio na Amazônia. Mana 14(2), 329-366. https://doi.org/10.1590/S0104-93132008000200003
GINZBURG, Carlo; Titan, Samuel. 2004. Nenhuma ilha é uma ilha: quatro visões da literatura inglesa. São Pualo: Companhia das Letras.
GOLDMAN, Marcio. 2014. A relação afroindígena. Cadernos de Campo 23(23): 213-222. https://doi.org/10.11606/issn.2316-9133.v23i23p213-222
GOMES, Flávio dos Santos. 2005. A hidra e os pântanos: mocambos, quilombos e comunidades de fugitivos no Brasil (Séculos XVII-XIX). São Paulo: UNESP/Polis.
GOMES, Ângela Maria da Silva. 2009. Rotas e diálogos de saberes da etnobotânica transtlântica negroafricana:
terreiros, quilombos, quintis da Grande BH. Tese (doutorado em Geografia). Universidade Federal de Minas Gerais. Ble Horizonte.
HARAWAY, Donna. 2003. When species meet. Minneapolis: University of Minnesota Press.
HARAWAY, Donna. 2008. The companion species manifesto: dogs, people, and significant otherness. New York:
Pricly Paradigm Press.
INGOLD, Tim. 2012. Trazendo as coisas de volta à vida: emaranhados criativos num mundo de
materiais. Horizontes antropológicos, 18(37): 25-44. https://doi.org/10.1590/S0104-71832012000100002
LEITE, Ilka Boaventura. 2000. Os Quilombos no Brasil: questões conceituais e normativas. Etnográfica, 4(2): 333.
LIMA FILHO, Petrônio Medeiros. 2014. Entre Quilombos: circuitos de festas de santo e a construção de alianças políticas entre as comunidades quilombolas de Salvaterra - Marajó - Pará. Dissertação de Mestrado em Ciências Sociais. Belém. PA. Universidade Federal do Pará.
MARIN, Rosa. 2009. Quilombolas na Ilha de Marajó: território e organização política. In: Emilia Pietrafesa de Godoi, Marilda Aparecida de Menezes, Rosa Acevedo Marin (orgs.). Diversidade do campesinato: expressões e categorias: construções identitárias e sociabilidades. São Paulo: UNESP; Brasília, DF: Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural.
MAUÉS, Raymundo Heraldo. 2005. “Um aspecto da diversidade cultural do caboclo amazônico: a religião”. Estud. av. 19(53): 259-274. https://doi.org/10.1590/S0103-40142005000100016
MAUÉS, Raymundo Heraldo. 2012. “O perspectivismo indígena é somente indígena? Cosmologia, religião, medicina e
populações rurais na Amazônia”. Mediações 17(1): 33-61. https://doi.org/10.5433/2176-6665.2012v17n1p33
MAUÉS, Raymundo Heraldo; VILLACORTA, Gisela Macambira. 2001. Pajelança e Encantaria amazônica In: PRANDI, Reginal (Org.). Encantaria Brasileira: o livro dos mestres, caboclos e encantados. Rio de Janeiro: Pallas.
MAUSS, Marcel. 2003. Esboço de uma teoria geral da magia. In: Sociologia e Antropologia. São Paulo: COSACNAIF.
MOTTA-MAUÉS, Maria Angelica; VILLACORTA, Gisela Macambira. 2008. Matintapereras e pajés: gênero, corpo e cura na pajelança amazônica (Itapuá/PA). In: MAUÉS, Raymundo Heraldo; VILLACORTA, Gisela Macambira (orgs.). Pajelanças e religiões africanas na Amazônia. Belém:
EDUFPA.
NUNES, Benedito. 1994. Casa, praça, jardim e quintal. Ciência & Trópico 22(2): 253-264.
O’DWYER, Eliane Cantarino. 2001. Quilombos: identidade étnica e territorialidade. Rio de Janeiro: Editora FGV.
PACHECO, Agenor Sarraf. 2010. “Encantarias afroindígenas na Amazônia Marajoara: Narrativas, Praticas de Cura e (In) tolerâncias Religiosas (Afroindigena Encantarias in the Marajoara Amazonia: Narratives, Cure Practices and Religious (in) tolerance. HORIZONTE-Revista de Estudos de Teologia
e Ciências da Religião 8(17): 88-108. https://doi.org/10.5752/P.2175-5841.2010v8n17p88
PEIXOTO, Lanna Beatriz Lima. 2014. Cidade nas águas - um estudo sobre o imaginário em Salvaterra-PA. Dissertação de Mestrado. Bragança, PA: Universidade Federal do Pará.
PIANI, Pedro Paulo Freire. 2007. Sobre a possibilidade da integração de saberes no SUS: um estudo de Mangueiras na ilha de Marajó-PA. Tese de Doutorado em Psicologia Social. São Paulo. SP. Pontifícia Universidade Católica.
PINHO, Rachel Camargo de. 2008. Quintais agroflorestais indígenas em área de savana na Terra Indígena
Araçá, Roraima. Dissertação de Mestrado. Manaus, AM: Universidade Federal do Amazonas.
POSEY, Darrell A. 2002. Kayapó ethnoecology and culture. London: Routledge.
SANSOT, Pierre. 1983. “Variations Paysagères – Invitation au paysage”. Paris: Klincksieck.
SANSOT, Pierre. 1989. “Pour une esthétique des paysages ordinaires”. Ethnologie française, 19(3): 239-243.
SCOPEL, Daniel. 2013. Uma etnografia sobre a pluralidade de modelos de atenção à saúde entre os índios Munduruku na terra indígena Kwatá Laranjal, Borba, Amazonas: práticas de automação, xamanismo e biomedicina. Tese de Doutorado. Florianópolis. SC. Universidade Federal de Santa Catarina.
SILVEIRA, Flávio Leonel Abreu da. 2016. “As paisagens coexistenciais interespecíficas, ou sobre humanos e não-humanos compartilhando espaços domésticos numa cidade amazônica”. Iluminuras, 17(42): 288-315. https://doi.org/10.22456/1984-1191.69988
SILVEIRA, Flávio Leonel Abreu da; SOUZA, Camila. 2014. “Imaginário, trabalho e sexualidade entre os coletores de caranguejo do salgado paraense”. Estudos Feministas 22(3): 755-780. https://doi.org/10.1590/S0104-026X2014000300003
TEIXEIRA, Raquel. Dias. 2006. “Todo lugar tem uma mãe: Sobre os filhos de Erepecuru”. Revista Anthropológicas 17(2): 117-146.
TRECCANI, Girolamo Domenico. 2006. Terras de Quilombo: caminhos e entreves do processo de titulação. Belém: Secretaria Executiva de Justiça.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 2002. A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia. São Paulo: Cosac & Naify.
TUAN, Yi-Fu. 1983. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: DIFEL.
WAWZYNIAK, João Valentin. 2003. “‘Engerar’: uma categoria cosmológica sobre pessoa, saúde e corpo”. Ilha 5(2): 33-55.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
1 Autores mantém os direitos autorais com o trabalho publicado sob a Creative Commons - Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) que permite:
Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato.
Adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material.
De acordo com os termos seguintes:
Atribuição — Você deve dar o crédito apropriado, prover um link para a licença e indicar se mudanças foram feitas. Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de nenhuma maneira que sugira que o licenciante apoia você ou o seu uso.
Não Comercial — Você não pode usar o material para fins comerciais.
2 Autores têm autorização para distribuição, da versão do trabalho publicada nesta revista, em repositório institucional, temático, bases de dados e similares com reconhecimento da publicação inicial nesta revista;
3 Os trabalhos publicados nesta revista serão indexados em bases de dados, repositórios, portais, diretórios e outras fontes em que a revista está e vier a estar indexada.